Dançar sobre as ruínas: um festival como uma ilha utópica espaço-temporal em meio às catástrofes de nosso tempo | Letícia Maia (Português)
10th October 2025Este texto de Letícia Maia é a sua comissão final do projecto Live Art Writers Network x Citemor 2025, resultando de uma residência de acompanhamento, escrita crítica e práticas de reflexão em resposta a live art e performance durante o festival Citemor 2025. Podes consultar os textos-performance gerados por Ed Freitas e Letícia Maia, com acompanhamento de Diana Damian Martin durante o Citemor aqui e consultar mais informação sobre o projecto Live Art Writers Network aqui.
Versão audio deste texto:
Dançar sobre as ruínas: um festival como uma ilha utópica espaço-temporal em meio às catástrofes de nosso tempo. Escrita encarnada-sintoma, pensamento decolonial e temporalidades cuír*
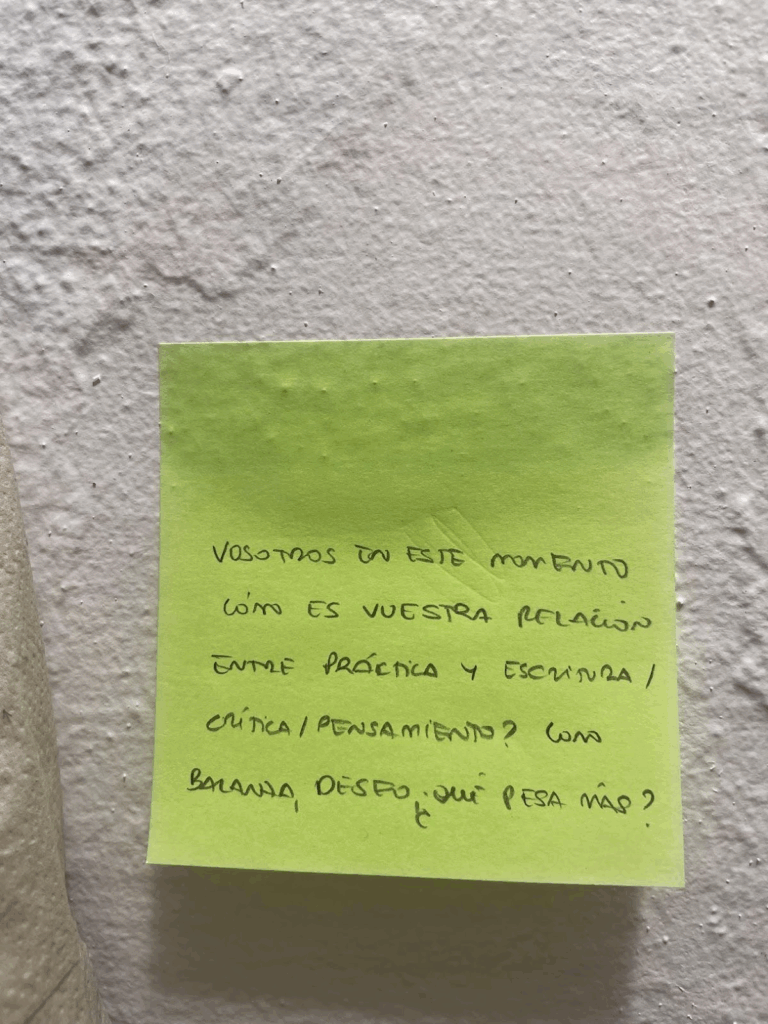
…
Estar em Montemor-o-Velho, participando da residência artística de escrita crítica e reflexão do projeto Live Art Writers Network (LAWN), a convite do performingborders e sob a condução afetiva de Xavier de Sousa, foi como habitar uma ilha utópica espaço-temporal em meio às catástrofes de nosso tempo.
Nas ruas e construções da antiga vila, no rio, nos espaços de ensaio e apresentação, nas sardinhadas, no restaurante da Elsa ou no Marinheiro, na casa de Carlota, nas caronas diárias entre Carapinheira, Montemor e Coimbra, nos bares após apresentações, na casa da família de Xavier que nos acolheu, nos encontros, ensaios, almoços, jantares, processos abertos, conversas sem fim — tempo e espaço pareciam se torcer em convivência e compartilhamento. Não se tratava apenas de assistir a espetáculos, mas de acompanhar gestos em trânsito, trabalhos em busca de si mesmos, convivendo com a comunidade que, em sua tessitura de relações, forma a rede viva que sustenta esse festival.
O convite para acompanhar o Citemor não foi apenas um chamado à observação, mas uma convocação a praticar a “respons-habilidade” (HARAWAY, 2019): a habilidade de responder de forma recíproca e encarnada aos trabalhos, aos artistas e à rede de relações que fazem o festival acontecer. Mas como trazer em palavras uma experiência que se inscreve no corpo? Como dar forma a um pensamento que nasce da desorientação dos sentidos (AHMED, 2019), da suspensão de hábitos, do encontro com a alteridade da arte e da comunidade que a torna possível?
Da minha posição como artista e pesquisadora, que não tem a escrita crítica como foco principal, esse convite foi uma grande provocação. Um movimento que me retirou do meu lugar de conforto e me lançou em uma situação imersiva de reflexão e escrita em temporalidade e volume de produção que eu ainda não havia experimentado. Ao lado de meus companheiros de residência Ed e Xavier, e das presenças virtuais de Anahí e Diana, fomos – eu e Ed, cada um à sua maneira – inventando modos de responder a essa provocação ao mesmo tempo em que o festival acontecia – aqui estão os textos que escrevemos durante o festival (link).
Acompanhar um conjunto de trabalhos tão diversos e complexos e escrever em simultaneidade ao festival implicou mapear aquilo que pulsava com mais intensidade e urgência no momento, trazendo para a escrita um caráter mais imediato, quase instantâneo, em resposta às formas singulares pelas quais cada trabalho me afetou.
Essa experiência trouxe à tona perguntas que me acompanham desde então: como desaprender formatos conhecidos e abrir espaço para uma prática de escrita que seja também experimental? Como escrever-pensar com e a partir da experiência, impregnada das reverberações performativas do acontecimento, deixando que este contamine o próprio gesto da escrita?
Este texto nasce dessa zona de atrito: o corpo que vive o acontecimento e a urgência de uma escrita que não busca capturá-lo. Como artista, que tem na experiência corporal sua matéria primordial, a escrita surge não como um ato de representação ou captura, mas como uma prática de fabulação especulativa (HARAWAY, 2019, p. 45), uma tentativa de tecer, com os fios do vivido, uma cama de gato (figuras de barbante) que, em um gesto de dar e receber, possa ser modificada e passada adiante para que afetos e pensamentos proliferem em outros campos (HARAWAY, 2019, p. 45). Trata-se de uma tentativa de articular, a partir de uma experiência situada, uma prática de escrita que seja, ela mesma, um modo de dançar sobre as ruínas, de cultivar um pensamento que emerge no encontro com a alteridade significativa da arte e da comunidade que a torna possível.
A escrita com e a partir das artes performativas, por sua natureza efêmera e fenomenológica, carrega sempre o risco de funcionar como dispositivo de captura — de congelar o acontecimento, de transformar a experiência em relatório, em memória estagnada, em arquivo duro. No texto “Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento”, Jacques Derrida (2001), nos lembra que o ato de “dizer o acontecimento” é atravessado por uma impossibilidade fundamental; ele escapa no instante em que tentamos nomeá-lo. Isso ocorre porque o dizer, por sua própria estrutura, “está condenado a uma certa generalidade, uma certa iterabilidade, uma certa repetitividade, [e por isso] carece sempre da singularidade do acontecimento” (DERRIDA, 2001, p. 236). A linguagem, ao tentar nomear o que é único e imprevisível, inevitavelmente o perde em uma generalidade que vem sempre depois do ocorrido.
No entanto, esse limite abre também outro caminho. Se a escrita falha em dizer o acontecimento, ela inevitavelmente acaba por fazê-lo de outra forma. Ela “intervém e interpreta, seleciona, filtra”, tornando-se ela mesma uma produção. A escrita é, então, um sintoma, uma reaparecência espectral do acontecimento que resiste à apropriação total. Assumir esse “fracasso” como gesto criador significa, então, abandonar a pretensão de captura e abraçar a escrita como processo de criação, um sintoma: uma significação do acontecimento que “ninguém domina, que nenhuma consciência […] pode se apropriar” (DERRIDA, 2001, p. 247). Não é a busca por desvendar o segredo inerente a todo acontecimento, mas reconhecer que “o segredo pertence à estrutura do acontecimento” (DERRIDA, 2001, p. 247). Escrever torna-se, assim, caminhar tateando no escuro, não para encontrar a saída, mas para traçar o mapa errante do próprio tropeço, operando sob a lógica do “talvez” — a única modalidade, segundo Derrida, que pode se ajustar a essa experiência do impossível.
A escrita, e em especial aquela voltada à crítica normativa de arte, carrega também o fantasma da distância e da pretensa neutralidade de quem escreve. Esta é uma herança maldita do dito sujeito “universal”, que se pretende colocar como neutro, mas que sempre foi bem marcado – masculino, branco, heterossexual, europeu, de classe média. Donna Haraway refere-se a essa postura como o “olhar conquistador que não vem de lugar nenhum”, um olhar que representa as posições não marcadas de “Homem e Branco” (Haraway, 1995, p. 18). Suely Messeder também denuncia a forma como a ciência moderna capitalista forjou a neutralidade em prol de um ideal universal, mesmo ciente da existência concreta do “sujeito encarnado epistêmico branco ocidental” (Messeder, 2020, p. 48).
As epistemologias feministas já nos ensinaram que não há sujeito universal, tampouco possibilidade de neutralidade e distância. Há, sim, corpos situados, posicionados de modo interseccional por marcadores sociais que os situam nas tensões de gênero, raça, classe, sexualidade, nacionalidade; corpos atravessados por feridas e desejos. Todo saber é localizado, tanto a abstração quanto a suposta objetividade são modos de instituir e manter relações de poder-saber.
Assim, a relação com os trabalhos artísticos é sempre intersubjetiva; seus sentidos emergem de modo relacional e contingente, em negociação constante com contextos, posicionalidades, afetos e circuitos de desejo que atravessam quem vê e escreve. Eu, como mulher cis, branca, bissexual, artista, brasileira e imigrante, falo a partir desse lugar situado. Minha relação com os trabalhos e com a escrita é, portanto, atravessada por essa posição, que orienta meus modos de ver, sentir, pensar e me colocar. Não se trata de um detalhe biográfico, mas de um ponto de inflexão que informa minha escuta e meu olhar: as experiências que carrego – de gênero, de sexualidade, de deslocamento e de criação – atuam como lentes que modulam tanto as perguntas que faço quanto as respostas que arrisco. Assim, escrever não é nunca um gesto neutro; é um ato encarnado, no qual memória, desejo, afeto e contexto se entrelaçam e reverberam nas leituras que proponho.
É nesse horizonte que Messeder propõe a figura da “pesquisadora encarnada”: aquela que reconhece sua trajetória biográfica e assume que todo conhecimento nasce de uma “subjetividade corpórea” (MESSEDER, 2020, p. 48). Para Messeder, o conhecimento não é abstração, mas corpo, memória e experiência; a escrita é sempre situada, corporificada e entrelaçada à identidade e à história de quem escreve. Contra a violência epistêmica que sustenta o saber normativo — excluindo vozes e formas que não se encaixam em seus moldes —, a autora defende um conhecimento “blasfêmico, multireferenciado, experimental e descolonial” (MESSEDER, 2020, p. 439), no qual a blasfêmia funciona como método político para romper com a assepsia da razão pura e assumir a contaminação do pensamento pelo corpo, pela ancestralidade e pela comunidade. Essa proposta confronta a colonialidade do saber, que impõe uma racionalidade técnico-científica, pretensamente neutra e universal, e silencia conhecimentos subalternizados. A escrita encarnada — insurgente, crítica e performativa — é, assim, um gesto de resistência às estruturas coloniais do conhecimento, pois mantém juntas dimensões que o paradigma moderno separou: corpo e pensamento, afeto e razão. Uma ciência blasfêmia, como nomeia Messeder, desafia essa separação colonial e reivindica modos de pensar em que vida e conhecimento não se apartam.
Inspirada por essas reflexões, busco aqui me aproximar de uma escrita encarnada-sintoma a partir da presença ainda pulsante dessas experiências e desse território insular em meu corpo. Escrever com e a partir de trabalhos artísticos — que também são formas de pensamento, elaboração estética e imaginativa — implica cultivar uma prática de atenção com o trabalho do outro que não procura apreender o que este “quer dizer”, mas abrir-se para ser afetada de corpo inteiro. Trata-se de, como sugere Eleonora Fabião, deslocar o foco de um problema ontológico para uma “interrogação performativa” (FABIÃO, 2009, p. 245): o que esse trabalho faz? O que pode fazer? Comigo, com o outro, com o mundo? Essa mudança de perspectiva é crucial: em vez de buscar uma verdade oculta no trabalho artístico, a escrita se volta para os seus efeitos, para as forças que ela mobiliza.
Nesse espaço-tempo torcido do festival, a escrita tornou-se para mim prática de pensamento, exercício de dialogar com os trabalhos e não sobre ou contra eles, gesto de ressonância e reverberação que escapa da pretensão de síntese normativa. Minha escrita aqui não se pretende relatório crítico; busca estar mais próxima de um arquivo vivo, corporal, provisório, precário, afim de dar forma aos afetos que atravessam o corpo. Uma escrita encarnada-sintoma blasfema, que desafia o saber normativo e abre espaço para modos indisciplinados de pensar. Escrever desse ponto de vista é reconhecer o risco da captura que toda escrita carrega, talvez por isso a escrita precise torcer-se junto ao tempo, habitar o intervalo, o desvio, a curva.
Essa blasfêmia metodológica é também gesto cuír: recusar linearidades, mover-se em outros tempos, habitar a indefinição. Perspectiva que ecoa as desorientações de Sara Ahmed, para quem o cuír é uma questão de desorientação e reorientação — virar-se para lados inesperados, recusar os caminhos pré-traçados (AHMED, 2019). Escrever com o corpo e não contra ele, como quem escuta sussurros, como quem se deixa impregnar, como quem toca e se deixa tocar. Uma escrita que se faz fazendo, performativa em seus efeitos, desvios e torções.
…
Ao puxar o fio da trama sensível que habita meu corpo depois de acompanhar processos, ensaios e apresentações tão distintos, percebo que uma questão rondava muitos dos trabalhos apresentados no festival, talvez eco do “espírito de nosso tempo” que pesa sobre nós: como criar em meio ao colapso — guerras, crises globais, retrocessos político-sociais, crescimento da extrema direita, do fascismo, da catástrofe ecológica em curso — que atravessa nossas vidas?
Não é difícil perceber que a realidade que vivemos está em colapso, efeito de um modo de vida imposto por estruturas de poder que interseccionam colonialismo, racismo e patriarcado. Para nomear a complexidade desta época, Haraway propõe uma série de termos interligados: Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno e Chthuluceno (HARAWAY, 2016). Cada termo ilumina uma faceta da crise. Antropoceno aponta para o impacto geológico massivo de uma parte da espécie humana; Capitaloceno especifica que não se trata do “humano” em geral, mas da lógica de acumulação infinita do capital; Plantationoceno nos lembra que as raízes dessa devastação estão nas práticas de monocultura das plantations, um modelo de simplificação ecológica e social que se tornou global. Por fim, Chthuluceno é o nome que Haraway dá às forças e poderes ctônicos, às teias multiespécies que persistem em meio às ruínas, convidando-nos a pensar e a criar com outras entidades terranas, humanas e não humanas.
Em diálogo com Haraway, Isabelle Stengers, aponta que o problema não é a ação do “humano” em geral, mas de uma civilização que, sob lógica capitalista, patriarcal e colonial, promove a “intrusão de Gaia” (STENGERS, 2015, p. 35). Em tempos de catástrofe em que, como alerta a autora, “nossas crenças históricas nos colocaram em suspenso” e as palavras de ordem do “desenvolvimento” soam vazias, não se trata de sonhar com soluções universais, mas de aprender a “resistir à barbárie que se aproxima” inventando artifícios que desestabilizem as narrativas hegemônicas e nos ensinem a prestar atenção (STENGERS, 2015, p. 15).
Nesse horizonte, a pergunta retorna: como criar no tempo das catástrofes? Como produzir trabalhos que se abram como fendas, dobras, lampejos de mundos vindouros? Evoco esse questionamento não para respondê-lo, mas para mantê-lo como problema guia. No contexto em que o festival acontece, na Europa, com trabalhos produzidos por artistas europeus, percebo que essa atmosfera que senti é efeito de um mal-estar produzido por uma percepção de que o mundo regido pela lógica colonial está em ruína, efeito de sua própria ação. Alguns trabalhos, cada um à sua maneira, expunham esse mal-estar e propunham encontros dentro do colapso, movimentos nas fissuras, atenção à fragilidade e à intensidade do presente — um presente atravessado por retóricas de fim de mundo e por afetos que desestabilizam certezas, convocando à escuta de futuros ainda possíveis.
Suely Rolnik (2018, p. 17) fala de uma “gestão coletiva e criativa do mal-estar” capaz de permitir a germinação de outros mundos. Esse mal-estar, diz ela, conecta-se ao “inconsciente colonial-capitalístico” e à urgência de sua descolonização. A transformação social, nos lembra Rolnik, não se resume à macropolítica, mas se gesta na “modificação dos dispositivos micropolíticos de produção de subjetividade” (ROLNIK, 2018, p. 19). A insurreição começa no corpo, na recusa em entregar a potência vital à “cafetinagem” do desejo pelo capital.
Davi Kopenawa, em A queda do céu, nos lembra que a destruição não é metáfora distante, mas ameaça concreta. Para seu povo, o colapso não é novidade, mas continuidade. A queda do céu, como adverte, não é mito longínquo, mas perigo real que nos afetará a todos, brancos e indígenas, caso os xamãs não possam mais “sustentar o céu” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 214). Sua fala ensina que o futuro depende das memórias ancestrais e dos mundos invisíveis que persistem; escutá-lo é reconhecer que as palavras dos xamãs, gravadas no pensamento e renovadas continuamente, são arquivo vivo que contrasta com as “peles de papel” dos brancos, marcadas pelo esquecimento (KOPENAWA; ALBERT, 2015). Essa escuta não é alegoria, mas memória e futuro encarnados, uma convocação à responsabilidade compartilhada e à urgência de reequilibrar mundos.
A imagem metafórica que nomeia este texto — “dançar sobre as ruínas” — propõe, então, a prática artística como modo de resistência micropolítica frente ao estado de colapso que vivemos, mas a ruína aqui não é uma metáfora para uma catástrofe genérica, e sim um gesto político preciso diante de um cenário específico. As paisagens contemporâneas estão repletas do que Anna Tsing (2019) chama de “ruínas”, e as ruínas que habitamos são o legado material e subjetivo da Matriz Colonial de Poder (MCP), a lógica que, nos últimos 500 anos, organizou a economia, a autoridade, o conhecimento e a própria vida em torno de uma hierarquia racial e patriarcal (MIGNOLO, 2017, p. 8; LUGONES, 2008). Esse é o “inconsciente colonial-capitalístico” que Rolnik (2018) descreve como um regime que “cafetina” a pulsão vital, e é a lógica destrutiva do “Povo da Mercadoria” que Kopenawa denuncia como responsável pela “queda do céu” (KOPENAWA; ALBERT, 2015). Essa matriz opera através de uma “Grande Divisão” que separa Natureza de Cultura, objeto de sujeito, o não-humano do humano, estabelecendo “duas zonas ontológicas inteiramente distintas” (LATOUR, 1994, p. 14). Reconhecer isso é o primeiro passo para entender que a crise contemporânea não é um acidente, mas um projeto.
Diante da urgência que o estado de colapso nos impõe, torna-se vital criar espaços onde possamos conviver na diferença, lidar com o mal-estar, cultivar relações que não se pautem pela hierarquia e pela exploração, mas pela escuta, pela reciprocidade e pela invenção coletiva. Criar, aqui, não é apenas produzir obras ou objetos artísticos, mas abrir mundos possíveis: modos de estar-junto capazes de desfazer as separações instituídas pela Matriz Colonial de Poder, de inventar vínculos entre corpos, territórios, memórias e temporalidades distintas. Esses gestos, como os que pude testemunhar em muitos trabalhos do festival, não oferecem respostas definitivas, mas ensaios que se arriscam em meio às ruínas, apontando para práticas de invenção em meio ao colapso, brechas onde a imaginação política pode proliferar.
Exemplo disso é Exercício de Montagem, do grupo português Teatro de Vestido, dirigido por Joana Craveiro e apresentado como abertura de processo, resultado da residência de criação no Citemor. A peça emerge de uma das maiores ruínas de nosso tempo — a guerra, ou melhor, o genocídio perpetrado por Israel contra o povo palestino — e convoca o espectador a uma escuta que é ao mesmo tempo política, ética e sensível. A dramaturgia não se apresenta como narrativa linear, mas como fluxo polifônico em que imagem, voz, gesto, música e cinema se entrelaçam.
A peça se organiza em diferentes planos que se interpolam em simultaneidade. No primeiro plano, Joana e Tarab, narradoras diante de microfones na parte frontal do palco, articulam em terceira pessoa histórias coletadas junto a pessoas que vivem sob o território ocupado da Palestina, cruzando dados históricos, citações de poetas e relatos íntimos. Traduzidas em português, inglês e árabe palestino, essas vozes tornam audíveis memórias e presenças que o Ocidente insiste em reduzir à condição de “menos que humanos”. A presença de Tarab — artista palestina residente no território ocupado por Israel — e a centralidade da oralidade em sua língua-mãe no palco deslocam o olhar e o corpo do espectador: é uma irrupção de resistência e resiliência que humaniza aqueles que o governo genocida israelense busca apagar, produzindo um estado de vertigem em que corpo e pensamento são interpelados por uma escuta sensível que exige responsabilidade.
No segundo plano, outros atores manipulam som, imagens, maquetes, documentos e o próprio vídeo em mesas de montagem, tornando visível o processo de criação. No terceiro plano, o “filme” em construção combina registros feitos na Palestina com imagens produzidas ao vivo no palco: conversas com habitantes, arquivos históricos, fotografias, mapas e cidades em ruínas recriadas em miniatura. Essa escolha estética é também um gesto político: expõe os artifícios da montagem, revelando a cena, a edição, a música, os cortes, a manipulação. Ao mostrar que nada do que vemos é natural ou inevitável, mas construído, Exercício de Montagem denuncia as estruturas coloniais e genocidas perpetradas pelo Estado de Israel, reinscrevendo as vozes silenciadas que falam por si em um campo de dignidade e cuidado — sem, contudo, cair no erro de falar por elas ou de “dar voz”.
Nesse jogo entre planos, a cena se torna território polifônico, onde o documento e o gesto, a vulnerabilidade e a resistência, o arquivo e a oralidade coexistem. A peça não apenas dá a ver o intolerável, mas insiste em que não podemos “desver”, “não saber, não querer saber”. A presença de Tarab e sua língua no centro do palco é um ato performativo de reinscrição: uma recusa à abjeção e uma afirmação da vida de um povo como força resistente. Nesse sentido, Exercício de Montagem é menos uma peça “sobre” a Palestina do que uma prática de desmontagem e reinvenção do olhar: uma pedagogia sensível que expõe os processos de representação ao mesmo tempo em que nos devolve o real em sua crueza, exigindo de nós um posicionamento ético diante da violência praticada por Israel e seu governo genocida.
O espetáculo também encena a precariedade induzida de um povo — uma vida tornada “invivível” pela lógica colonial-capitalística — e a transforma em gesto político. Sua força não está em oferecer respostas ou soluções, mas em abrir um espaço de desconforto ético, de deslocamento crítico, em que a montagem se torna prática de resistência micropolítica. Cada escolha de tradução, cada gesto diante do microfone, cada cena, cada manipulação visível do som e da imagem produzem uma política da atenção, insistindo em inventar mundos possíveis em meio às ruínas.
Confesso que saí do teatro engasgada, com um peso indigesto no estômago, sem saber exatamente como colocar em palavras o modo como o trabalho me afetou. Ainda assim, diante da função que me foi confiada no festival, senti a necessidade de ensaiar essas breves palavras, mesmo compreendendo que tudo o que podemos dizer diante do intolerável parece sempre insuficiente, mesmo fora da temporalidade do festival. Assistir a esse processo foi perceber como a cena aberta, colaborativa, sensível e processual — construída entre documento e gesto — pode operar como uma forma de resistência frente à crueldade da violência que parece inenarrável. A utilização da oralidade em terceira pessoa, a fragmentação das narrativas e a simultaneidade das línguas estruturam uma dramaturgia polifônica que desmonta narrativas coloniais e revela as camadas de mediação do olhar. Ao mesmo tempo, a cena recusa qualquer neutralidade diante da violência: protesta contra o silenciamento do genocídio na Palestina e afirma a responsabilidade ética de não se calar diante do intolerável, nomeando explicitamente o Estado de Israel como autor responsável por essa política de morte.
Assim, Exercício de Montagem não apenas denuncia, mas inventa. Insiste em fazer do palco um lugar de cuidado e atenção, onde a tecnologia de montagem — cena, som, imagem, edição — deixa de ser mero recurso técnico para se tornar ferramenta ética. O espetáculo convida o espectador a uma chamada à responsabilidade, a um exercício de escuta e de presença. Mais do que testemunhar, trata-se de aprender a habitar a vulnerabilidade do outro sem transformá-la em espetáculo, mas como partilha de humanidade. Nesse gesto, a cena abre uma dobra sensível no presente: um espaço em que a vida colocada como precarizada ressurge como potência de resistência e de imaginação política, enfrentando a violência genocida.
Compreendo que práticas artísticas podem operar como dobras, brechas, lampejos que escapam ao controle da lógica colonial-capitalística e, justamente por isso, funcionam como formas de resistência micropolítica. Se a crise contemporânea não é um acidente, mas um projeto, a criação surge como aquilo que insiste em sabotar o roteiro: desviar o curso, abrir fendas, fazer proliferar modos de vida distintos no espaço do possível, abrindo frestas onde o real pode ser reimaginado. A prática artística, assim, se constitui como gesto de reencantamento capaz de mobilizar forças sutis, contrapondo-se às lógicas coloniais. É nesse horizonte que Stengers propõe reativar práticas marginalizadas pela modernidade capitalista — como a magia e a feitiçaria — como modalidades de resistência política. Talvez a arte seja precisamente uma dessas práticas de reencantamento do mundo, capaz de atuar como forma de insurgência e de invenção de novos modos de vida.
…
O Citemor não é um festival como os outros. Com mais de meio século de existência, insiste em não se render à lógica hegemônica restrita às estreias e à circulação de espetáculos prontos. É mais laboratório do que vitrine, mais espaço de germinação do que de exibição. Nesse sentido, oferece uma contraproposta micropolítica: uma relação sensível que sustenta processos e convivências, organizada em torno de uma afetividade processual. Sua força está na maleabilidade e na abertura — formas de convívio e de fazer arte que resistem à norma e à linearidade. Relações de confiança, cuidado, apoio, colaboração, afeto e generosidade tornam-se metodologias que sustentam sua prática, cultivando uma fé no que vem, uma confiança no outro e no que este faz. Assim, mesmo quando os recursos são escassos, o festival insiste na crença de que a arte pode existir pela via da resistência e da fé no impossível.
Na minha primeira participação nesse acontecimento, percebi com alegria e encanto como o festival se fortalece em alianças e colaborações duradouras, que se constroem e fortificam ao longo do tempo. Essa rede cria uma familiaridade não normativa – mais próxima daquela que Haraway evoca ao nos propor “fazer parente” (making kin), prática de criar relações de responsabilidade para além dos laços de sangue. (HARAWAY, 2016, p. 4). É tecer “parentescos raros” (oddkin) com humanos e não humanos como modo de “ficar com o problema” num planeta em ruínas. Conviver com cada pessoa que compõe a produção do Citemor, sob a condução generosa de Vasco Neves e Armando Valente, diretores do festival que compartilham o mesmo chão com todas e todos que trabalham para que ele aconteça, foi experimentar essa prática em ato. Entre artistas que retornam regularmente para residências, inícios de novos projetos, aberturas de processo e apresentações, e aqueles que chegam pela primeira vez, abre-se espaço para a diferença, para o experimental, para o que se afirma como processo.
Alguns textos escritos ao longo dos últimos anos elucidam bem esse caráter do festival. Recomendo a leitura do texto de Pablo Caruana escrito a partir da edição deste ano, que ressoa sua posição como parceiro de longa do festival (link). Assim como Pablo, Claudia Galhós ocupou por muito tempo essa tarefa de escrita crítica; alguns de seus textos podem ser acessados aqui (link). Também recomendo a leitura dos textos em parceria com o performingborders que vem se fortalecendo nos últimos anos através do projeto Live Art Writers Network, entre eles os textos que Dori Nigro e Paulo Pinto escreveram a partir da edição de 2024 (link), e os textos que Xavier de Sousa e Anahí Saravia Herrera escreveram a partir da edição de 2022 (link).
No fim, percebo que o Citemor não é apenas um festival, mas uma promessa: uma ilha utópica que emerge entre as ruínas das catástrofes do nosso tempo, uma dobra espaço-temporal que torce o real e nos convida a imaginar coletivamente outras formas de estar-junto, mostrando que mundos possíveis ainda podem germinar no precário de nosso presente. Não se trata de escapar do colapso, mas de aprender a criar dentro dele. Nesse sentido, o Citemor opera como um verdadeiro laboratório de convivência, em que processos valem mais que produtos, alianças duradouras mais que circuitos efêmeros, confiança e cuidado mais que competição. Ao sustentar essa prática, encarna — ainda que de forma provisória e situada — a promessa de outros modos de fazer com.
Desse modo, o festival atua como terreno fértil para exercitarmos nossa imaginação política: um convite para habitar o presente atravessado pelo futuro. Não o futuro da linearidade progressista, mas o “ainda não” da utopia cuír de que fala José Esteban Muñoz, um horizonte que se anuncia como promessa e guia a imaginação. Nesse espaço para imaginar futuros políticos não pela linha reta, mas pelas torções da coletividade sensível — abraçando instabilidade, erro, fracasso e reconhecendo vulnerabilidade e a interdependência não como fraqueza, mas como a própria condição de possibilidade para a força política.
Acompanhar o Citemor foi experimentar uma temporalidade, curva, torcida, cuirizada, que recusa a linearidade produtivista e abraça o erro, a vulnerabilidade e o desvio como matéria de criação.
Essa atmosfera ecoa as desorientações de Sara Ahmed, para quem o cuír é uma questão de desorientação e reorientação — virar-se para lados inesperados, recusar os caminhos pré-traçados (AHMED, 2019). É uma recusa em chegar a um destino final, uma insistência em, para voltar a Haraway, “seguir com o problema” (HARAWAY, 2019), em vez de buscar soluções fáceis.
A escrita-pensamento crítico que nasce dessa experiência não poderia, portanto, ser a da avaliação ou da síntese normativa. Ela precisa assumir-se como o próprio festival: processual, indisciplinada, múltipla, feita de tropeços, desvios e reorientações. Mais do que falar sobre os trabalhos, escrever tornou-se para mim um exercício de dialogar com eles, gesto de ressonância que reconhece o risco de captura que toda escrita carrega, mas que insiste em torcer-se junto ao tempo, habitando o intervalo. Nesse movimento, a prática da escrita deixa de ser exercício de ordenação de sentidos e se aproxima mais da criação de sentidos provisórios, mutáveis e contextuais — alinhada a temporalidades cuír, indisciplinadas, de que falava Diana Damian Martin em nossas conversas. Temporalidades que interpolam presente, passado e futuro, que escapam tanto da linearidade normativa quanto da retórica de fim de mundo e, justamente por isso, fortalecem nossa imaginação política. Uma escrita que falha em apreender e insiste em criar, que se recusa a ser registro ou síntese e prefere permanecer como reverberação: aberta, ruína e promessa ao mesmo tempo.
Que a escrita crítica-reflexiva possa então ser dança mais do que discurso, gesto mais do que explicação; que recuse a linearidade da crítica normativa e se entregue às torções da experiência. Uma escrita encarnada-sintoma, blafema, cuír, situada, que insiste em germinar futuros nas fissuras do presente e que reconhece, como nos lembram as epistemologias feministas e decoloniais, que o primeiro território a ser colonizado foi o corpo. Talvez por isso a insistência na experiência corporal seja, hoje, um gesto decolonial fundamental: escrever a partir do corpo é também resistir, reabrir o futuro e manter viva a potência de imaginar outros mundos possíveis.
Que possamos nos comprometer com a tarefa de decolonizar o pensamento, a escrita, as práticas artísticas e também os próprios modos de circulação da arte, como os festivais. Que a atenção aos saberes marginalizados nos ensine a desviar das rotas pré-traçadas, a operar torções, a abrir brechas e a reorientar nossos corpos e ideias em direção a outros mapas de saber e de prática, para relações e temporalidades que se recusam a se submeter às lógicas coloniais e capitalísticas. Que a arte siga nos lembrando que inventar mundos possíveis nunca é gesto neutro, mas sempre situado; que possamos assumir o compromisso com políticas de cuidado, responsabilidade e insurgência, aprendendo a criar no interior do colapso e a escutar aqueles que, há séculos, resistem, sobrevivem e imaginam outros mundos.
Letícia Maia, 24 de setembro de 2025, Porto, Portugal.
* Adoto a grafia “cuír” em vez de “queer” como gesto político e epistemológico de deslocamento do termo de suas origens anglófonas e acadêmicas hegemônicas, situando-o nas tensões, afetos e práticas dissidentes do contexto latino-americano. “Cuír” opera como tradução inventiva e desobediente, enfatizando a sonoridade das línguas ibero-americanas e recusando as normatividades que “queer” adquiriu em certos circuitos institucionalizados do Norte Global.
Referências
AHMED, Sara. Fenomenología Queer: orientaciones, objetos, otros. Barcelona: Bellaterra, 2019.
ANZALDÚA, Gloria. La conciencia de la mestiza / Rumo a uma nova consciência. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 161-177.
BUTLER, Judith. Atos performáticos e a formação dos gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 195-214.
CURIEL, Ochy. Construindo metodologias feministas desde o feminismo decolonial. In: MELO, Paula Balduino et al. (org.). Descolonizar o feminismo: VII Sernegra. Brasília: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 2019. p. 33-51.
DERRIDA, Jacques. Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento. Revista do Departamento de Psicologia da UFF, v. 13, n. 2, p. 231-252, jul./dez. 2001.
FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. Sala Preta, v. 8, n. 1, p. 235-246, 2009.
FABIÃO, Eleonora. O que é um corpo em experiência? ou sobre performance, programa e Cia. In: Catálogo da 17ª edição do Festival Panorama, Rio de Janeiro, 2009, p. 18-19.
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, n. 5, p. 07-41, 1995.
HARAWAY, Donna. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. ClimaCom Cultura Científica, Campinas, ano 3, n. 5, abr. 2016.
HARAWAY, Donna. Ficar com o problema: fazer parentes no Chthuluceno. São Paulo: n-1 Edições, 2023.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
MESSEDER, Suely Aldir. A pesquisadora encarnada: uma trajetória decolonial na construção do saber científico blasfêmico. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. p. 155-171.
ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: n-1 edições, 2018.
STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015.TSING, Anna Lowenhaupt. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
Letícia Maia (1988, Mairiporã – SP, Brasil) é artista e vive e trabalha em Portugal. É mestre em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – FBAUP (2023, Portugal) e bacharel em Comunicação das Artes do Corpo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2014, Brasil). Sua prática artística se desenvolve no campo transdisciplinar entre performance, desenho e escultura, com interesse na investigação da dimensão política do corpo — especialmente nas questões que envolvem gênero, identidade, sexualidade e normatividade —, tensionando os modos de representação do corpo na história da arte. Nos últimos anos, apresentou seus trabalhos em diversos contextos, participando de festivais, mostras, exposições e residências artísticas no Brasil, Chile, Colômbia, Áustria e Portugal. Atualmente, desenvolve o projeto “montar corpo”, contemplado com a bolsa de criação do programa Artistas Douro/Câmara Municipal do Porto, em residência na Mala Voadora (Porto, Portugal). Dentre suas exposições individuais atuais destacam-se: “Decomposição Tropical” (Fundação Júlio Resende, Gondomar, Portugal, 2025); “MAKE FEMININE” (projeto contemplado com apoio à criação artística da DGArtes 2023, apresentado no Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural, Porto, Portugal, 2024); e “D Ó C I L_corpo, gênero, poder e performance” (Espaço AL859, Porto, Portugal, 2023). Atua também na organização e curadoria de mostras de performance, sendo uma das idealizadoras da Movediça_Mostra de Performance Arte, realizada desde 2017 na cidade de São Paulo, e criadora da mostra trëma(¨), realizada pela primeira vez em 2023, na cidade do Porto.
—
O projecto Live Art Writers Network x Citemor 2025 foi programado e concebido por performingborders e Citemor, com Diana Damian Martin, Dori Nigro e Paulo Pinto, com financiamento de Royal Central School of Speech & Drama – University of London.